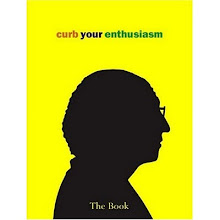31.5.13
Público e privado (uma imagem com mil palavras. Mentira, são 94)
A minha imagem preferida da diferença fundamental entre trabalhar no setor público e no privado é a do técnico chamado a tomar posição sobre determinado assunto, em relação ao qual tem opinião segura sobre o seu bom sentido. Acontece que o seu superior hierárquico está a pressioná-lo insistentemente a pronunciar-se no sentido contrário. Ele acaba por ceder, pois tem humano receio de ser, digamos, requalificado. Se isto se passar no sector privado, perde a empresa. Ou porventura ganha, se a manha for frutuosa. No outro caso, perde sempre o interesse público. Ou seja, todos nós.
Natureza contra-intuitiva
Assoarmo-nos e ficarmos com o nariz ainda mais entupido.
30.5.13
Outros 95%
A mensagem que Pacheco Pereira enviou à Aula Magna, e que me permito transcrever aqui, tem tudo aquilo que nos deve motivar para fazer algo, nomeadamente quanto às intenções e às consequências desta política que nos está a ser imposta. Tudo? Bem, Pacheco Pereira parece continuar a imputar exclusivamente o que está a acontecer em Portugal à "herança de uma governação desleixada e aventureira, arrogante e despesista, que nos conduziu às portas da bancarrota". Nem uma única referência a crise internacional, nisto também contribuindo para mistificar o caminho que, de facto, nos conduziu até à tal situação de bancarrota (e como explicar o espectro da mesma crise, ainda que com diferentes matizes, noutros países?). De qualquer forma, é um texto notável e que mostrará que é possível encontrar pontes (para o presente e para o futuro), fundamentais como nunca neste momento, apesar dos divergentes entendimentos sobre o passado.
"MENSAGEM ENVIADA AO ENCONTRO DA AULA MAGNA
Caro Presidente Mário Soares,
Não podendo estar presente nesta iniciativa, apoio o seu objectivo de contribuir para combater a “inevitabilidade” do empobrecimento em que nos querem colocar, matando a política e as suas escolhas, sem as quais não há democracia. Gostaria no entanto de, por seu intermédio, expressar com mais detalhe a minha posição.
A ideia de que para alguém do PSD, para um social-democrata, lhe caem os parentes na lama por estar aqui, só tem sentido para quem esqueceu, contrariando o que sempre explicitamente, insisto, explicitamente, Sá Carneiro disse: que os sociais democratas em Portugal não são a “direita”. E esqueceu também o que ele sempre repetiu: de que acima do partido e das suas circunstancias, está Portugal.
Não. Os parentes caem na lama é por outras coisas, é por outras companhias, é por outras cumplicidades, é por se renegar o sentido programático, constitutivo de um partido que tem a dignidade humana, o valor do trabalho e a justiça social inscritos na sua génese, a partir de fontes como a doutrina social da Igreja, a tradição reformista da social-democracia europeia e o liberalismo político de homens como Herculano e Garrett. Os que o esquecem, esses é que são as más companhias que arrastam os parentes para a lama da vergonha e da injustiça.
Não me preocupam muito as classificações de direita ou de esquerda, nem sequer os problemas internos de “unidade” que a esquerda possa ter. Não é por isso que apoio esta iniciativa. O acantonamento de grupos, facções ou partidos, debaixo desta ou daquela velha bandeira, não contribui por si só para nos ajudar a sair desta situação. Há gente num e noutro espectro político, preocupada com as mesmas coisas, indignada pelas mesmas injustiças, incomodada pelas desigualdades de sacrifícios, com a mesma cidadania activa e o mesmo sentido de decência que é o que mais falta nos dias de hoje.
A política, a política em nome da cidadania, do bom governo, e da melhoria social, é que é decisiva. O que está a acontecer em Portugal é a conjugação da herança de uma governação desleixada e aventureira, arrogante e despesista, que nos conduziu às portas da bancarrota, com a exploração dos efeitos dessa política para implementar um programa de engenharia cultural, social e política, que faz dos portugueses ratos de laboratório de meia dúzia de ideias feitas que passam por ser ideologia. Tudo isto associado a um desprezo por Portugal e pelos portugueses de carne e osso, que existem e que não encaixam nos paradigmas de “modernidade” lampeira, feita de muita ignorância e incompetência a que acresce um sentimento de impunidade feito de carreiras políticas intra-partidárias, conhecendo todos os favores, trocas, submissões, conspirações e intrigas de que se faz uma carreira profissionalizada num partido político em que tudo se combina e em que tudo assenta no poder interno e no controlo do aparelho partidário.
Durante dois anos, o actual governo usou a oportunidade do memorando para ajustar contas com o passado, como se, desde que acabou o ouro do Brasil, a pátria estivesse à espera dos seus novos salvadores que, em nome do "ajustamento" do défice e da dívida, iriam punir os portugueses pelos seus maus hábitos de terem direitos, salários, empregos, pensões e, acima de tudo, de terem melhorado a sua condição de vida nos últimos anos, à custa do seu trabalho e do seu esforço. O "ajustamento" é apenas o empobrecimento, feito na desigualdade, atingindo somente "os de baixo", poupando a elite político-financeira, atirando milhares para o desemprego entendido como um dano colateral não só inevitável como bem vindo para corrigir o mercado de trabalho, "flexibilizar” a mão de obra, baixar os salários. Para um social-democrata poucas coisas mais ofensivas existem do que esta desvalorização da dignidade do trabalho, tratado como uma culpa e um custo não como uma condição, um direito e um valor.
Vieram para punir os portugueses por aquilo que consideram ser o mau hábito de viver "acima das suas posses", numa arrogância política que agravou consideravelmente a crise que tinham herdado e que deu cabo da vida de centenas de milhares de pessoas, que estão, em 2013, muitas a meio da sua vida, outras no fim, outras no princípio, sem presente e sem futuro.
Para o conseguir desenvolveram um discurso de divisão dos portugueses que é um verdadeiro discurso de guerra civil, inaceitável em democracia, cujos efeitos de envenenamento das relações entre os portugueses permanecerão muito para além desta fátua experiência governativa. Numa altura em que o empobrecimento favorece a inveja e o isolamento social, em que muitos portugueses tem vergonha da vida que estão a ter, em que a perda de sentido colectivo e patriótico leva ao salve-se quem puder, em que se colocam novos contra velhos, empregados contra desempregados, trabalhadores do sector privado contra os funcionários públicos, contribuintes da segurança social contra os reformados e pensionistas, pobres contra remediados, .permitir esta divisão é um crime contra Portugal como comunidade, para a nossa Pátria. Este discurso deixará marcas profundas e estragos que demorarão muito tempo a recompor.
O sentido que dou à minha participação neste encontro é o de apelar à recusa completa de qualquer complacência com este discurso de guerra civil, agindo sem sectarismos, sem tibiezas e sem meias tintas, para que não se rompa a solidariedade com os portugueses que sofrem, que estão a perder quase tudo, para que a democracia, tão fragilizada pela nossa perda de soberania e pela ruptura entre governantes e governados, não corra riscos maiores.
Precisamos de ajudar a restaurar na vida pública, um sentido de decência que nos una e mobilize. Na verdade, não é preciso ir muito longe na escolha de termos, nem complicar os programas, nem intenções. Os portugueses sabem muito bem o que isso significa. A decência basta."
Pacheco Pereira. Retirado do Abrupto.
"MENSAGEM ENVIADA AO ENCONTRO DA AULA MAGNA
Caro Presidente Mário Soares,
Não podendo estar presente nesta iniciativa, apoio o seu objectivo de contribuir para combater a “inevitabilidade” do empobrecimento em que nos querem colocar, matando a política e as suas escolhas, sem as quais não há democracia. Gostaria no entanto de, por seu intermédio, expressar com mais detalhe a minha posição.
A ideia de que para alguém do PSD, para um social-democrata, lhe caem os parentes na lama por estar aqui, só tem sentido para quem esqueceu, contrariando o que sempre explicitamente, insisto, explicitamente, Sá Carneiro disse: que os sociais democratas em Portugal não são a “direita”. E esqueceu também o que ele sempre repetiu: de que acima do partido e das suas circunstancias, está Portugal.
Não. Os parentes caem na lama é por outras coisas, é por outras companhias, é por outras cumplicidades, é por se renegar o sentido programático, constitutivo de um partido que tem a dignidade humana, o valor do trabalho e a justiça social inscritos na sua génese, a partir de fontes como a doutrina social da Igreja, a tradição reformista da social-democracia europeia e o liberalismo político de homens como Herculano e Garrett. Os que o esquecem, esses é que são as más companhias que arrastam os parentes para a lama da vergonha e da injustiça.
Não me preocupam muito as classificações de direita ou de esquerda, nem sequer os problemas internos de “unidade” que a esquerda possa ter. Não é por isso que apoio esta iniciativa. O acantonamento de grupos, facções ou partidos, debaixo desta ou daquela velha bandeira, não contribui por si só para nos ajudar a sair desta situação. Há gente num e noutro espectro político, preocupada com as mesmas coisas, indignada pelas mesmas injustiças, incomodada pelas desigualdades de sacrifícios, com a mesma cidadania activa e o mesmo sentido de decência que é o que mais falta nos dias de hoje.
A política, a política em nome da cidadania, do bom governo, e da melhoria social, é que é decisiva. O que está a acontecer em Portugal é a conjugação da herança de uma governação desleixada e aventureira, arrogante e despesista, que nos conduziu às portas da bancarrota, com a exploração dos efeitos dessa política para implementar um programa de engenharia cultural, social e política, que faz dos portugueses ratos de laboratório de meia dúzia de ideias feitas que passam por ser ideologia. Tudo isto associado a um desprezo por Portugal e pelos portugueses de carne e osso, que existem e que não encaixam nos paradigmas de “modernidade” lampeira, feita de muita ignorância e incompetência a que acresce um sentimento de impunidade feito de carreiras políticas intra-partidárias, conhecendo todos os favores, trocas, submissões, conspirações e intrigas de que se faz uma carreira profissionalizada num partido político em que tudo se combina e em que tudo assenta no poder interno e no controlo do aparelho partidário.
Durante dois anos, o actual governo usou a oportunidade do memorando para ajustar contas com o passado, como se, desde que acabou o ouro do Brasil, a pátria estivesse à espera dos seus novos salvadores que, em nome do "ajustamento" do défice e da dívida, iriam punir os portugueses pelos seus maus hábitos de terem direitos, salários, empregos, pensões e, acima de tudo, de terem melhorado a sua condição de vida nos últimos anos, à custa do seu trabalho e do seu esforço. O "ajustamento" é apenas o empobrecimento, feito na desigualdade, atingindo somente "os de baixo", poupando a elite político-financeira, atirando milhares para o desemprego entendido como um dano colateral não só inevitável como bem vindo para corrigir o mercado de trabalho, "flexibilizar” a mão de obra, baixar os salários. Para um social-democrata poucas coisas mais ofensivas existem do que esta desvalorização da dignidade do trabalho, tratado como uma culpa e um custo não como uma condição, um direito e um valor.
Vieram para punir os portugueses por aquilo que consideram ser o mau hábito de viver "acima das suas posses", numa arrogância política que agravou consideravelmente a crise que tinham herdado e que deu cabo da vida de centenas de milhares de pessoas, que estão, em 2013, muitas a meio da sua vida, outras no fim, outras no princípio, sem presente e sem futuro.
Para o conseguir desenvolveram um discurso de divisão dos portugueses que é um verdadeiro discurso de guerra civil, inaceitável em democracia, cujos efeitos de envenenamento das relações entre os portugueses permanecerão muito para além desta fátua experiência governativa. Numa altura em que o empobrecimento favorece a inveja e o isolamento social, em que muitos portugueses tem vergonha da vida que estão a ter, em que a perda de sentido colectivo e patriótico leva ao salve-se quem puder, em que se colocam novos contra velhos, empregados contra desempregados, trabalhadores do sector privado contra os funcionários públicos, contribuintes da segurança social contra os reformados e pensionistas, pobres contra remediados, .permitir esta divisão é um crime contra Portugal como comunidade, para a nossa Pátria. Este discurso deixará marcas profundas e estragos que demorarão muito tempo a recompor.
O sentido que dou à minha participação neste encontro é o de apelar à recusa completa de qualquer complacência com este discurso de guerra civil, agindo sem sectarismos, sem tibiezas e sem meias tintas, para que não se rompa a solidariedade com os portugueses que sofrem, que estão a perder quase tudo, para que a democracia, tão fragilizada pela nossa perda de soberania e pela ruptura entre governantes e governados, não corra riscos maiores.
Precisamos de ajudar a restaurar na vida pública, um sentido de decência que nos una e mobilize. Na verdade, não é preciso ir muito longe na escolha de termos, nem complicar os programas, nem intenções. Os portugueses sabem muito bem o que isso significa. A decência basta."
Pacheco Pereira. Retirado do Abrupto.
29.5.13
Public Benches
Se este blogue, ainda não completamente ressuscitado mas também ainda sem certidão de óbito oficial, tivesse uma espécie de lema, gostava que fosse este refrão de Brassens:
Young lovers kissing on park benches publicly,
Publicly, publicly
Not giving the slightest damn for the
Honest people’s stares
Young lovers kissing on park benches publicly,
Publicly, publicly
Saying “I love you” pathetically
Look pretty nice if you ask me
THE PUBLIC BENCHES
Georges Brassens, traduzido e interpretado por Pierre de Gaillande. Este:
28.5.13
Defesa de Marinho Pinto
Até agora consegui, sem verdadeira intenção, não ouvir qualquer declaração do bastonário da ordem dos advogados sobre a co-adoção de crianças por casais gay (é um talento meu. sem qualquer esforço, consigo que uma quantidade apreciável de coisas me passem ao lado. também ajuda quase nunca ligar a televisão). Mas, pelo que vou lendo nas redes sociais, o que diz é triste e nada recomendável. Custa-me que assim seja. Que venha desta forma parecer dar razão a tantos os que apenas viram, nas suas intervenções ao longo dos seus dois mandatos, um foguetório de opiniões mal sustentadas. Mas não dá (a razão). Marinho Pinto, no estilo que é dele, teve muitas vezes a coragem de apontar o dedo (e a mão e o braço) à nudez do reis. Os reis da justiça, dos tribunais, dos media, do poder. Não sei se foi um bom bastonário para os advogados. Mas considero que, em muitas ocasiões, prestou um bom serviço à justiça e contribuiu para a defesa de uma democracia melhor para os cidadãos. And then again, isto também deveria regozijar os advogados.
18.5.13
Volver (ou ultrapassar o Crato pela direita)
17.5.13
Ater-me no acessório das III jornadas de Ciência Política (muito boas), que acabaram hoje no ISCTE-IUL é isto:
Um dos oradores faz notar que as universidades ainda dispõem,
de um modo geral, as salas de aula da forma tradicional, ocupando o professor um lugar
sobranceiro em relação aos alunos, que estão, aliás, ou de costas voltadas ou,
na melhor das hipóteses, lado a lado entre eles, o que cria obstáculos
desnecessários à troca de ideias. Comentário que, sendo certeiro, é
relativamente banal. O que ainda não me tinha apercebido é a estranha
circunstância de a sala de aula dos meus filhos (olha, outra vez eles. olá
filhotes!), um na creche e outro no 1.º ciclo, ter uma disposição mais
democrática, em que se valoriza mais a sua opinião, do que
aquela que, provavelmente, irão encontrar quando tiverem 18 anos. É o que se
chama andar para trás.
Ainda adoção se escrevia com pê e já eu refletia sobre os temas candentes da atualidade
16.5.13
Sempre me questionei que tipo de pessoas estranhas anda, a pé, pela Av. Lusíada
Agora já sei. São tipo eu (bem menos estranhas do que imaginava).
A caixa mágica segundo o meu filho, a 16-05-2013
Depois de longos anos afastado dos acimentados de futebol 5, o papá (eu) volta a jogar à bola.
A mãe: - O papá (eu) foi jogar à bola. Agora come e cala-te.
O filho: - Podes ligar a televisão para ver o papá (eu) jogar enquanto como?
Os 5 sentidos segundo a minha filha, a 16-05-2013
- A visão, o tato, a audição, o olfato e o salazar.
- Hein?!
- A visão, o tato, a audição, o olfato e o salazar.
- Ahhhh (o polvo, unido, jamais será vencido).
- Hein?!
- A visão, o tato, a audição, o olfato e o salazar.
- Ahhhh (o polvo, unido, jamais será vencido).
7.5.13
Deixar aqui, para ler mais tarde, esta entrevista a... (bolas, nunca sei como se escreve corretamente) Ian McEwan. Por Zadie Smith. Com esta maravilhosa introdução:
ZADIE SMITH
[ENGLISH NOVELIST, BORN 1975]
TALKS WITH
IAN MCEWAN
[ENGLISH NOVELIST, BORN 1948]
“I WAS MAKING A STRENGTH OUT OF A KIND OF IGNORANCE. I HAD NO ROOTS IN ANYTHING AND IT WAS ALMOST AS IF I HAD TO INVENT A LITERATURE.”
Aspects of the “English Novel” to avoid:
Polite, character-revealing dialogue
Lightly ironic ethical investigation
Excessive amounts of furniture
Polite, character-revealing dialogue
Lightly ironic ethical investigation
Excessive amounts of furniture
I have often thought Ian McEwan a writer as unlike me as it is possible to be. His prose is controlled, careful, and powerfully concise; he is eloquent on the subjects of sex and sexuality; he has a strong head for the narrative possibilities of science; his novels are no longer than is necessary; he would never write a sentence featuring this many semicolons. When I read him I am struck by metaphors I would never think to use, plots that don’t occur to me, ideas I have never had. I love to read him for these reasons and also because, like his millions of readers, I feel myself to be in safe hands. Picking up a book by McEwan is to know, at the very least, that what you read therein will be beautifully written, well-crafted, and not an embarrassment, either for you or for him. This is a really big deal. Bad books happen less frequently to McEwan than they do to the rest of us. Since leaving the tutelage of Malcolm Bradbury and Angus Wilson on the now famous (because of McEwan) University of East Anglia creative writing course, McEwan has had one of the most consistently celebrated careers in English literature. We haven’t got space for it all here, but among the prizes is the Somerset Maugham Award in 1976 for his first collection of short stories, First Love, Last Rites; the Whitbread Novel Award (1987) and Prix Fémina Etranger (1993) for The Child in Time; he has been shortlisted for the Booker Prize three times, winning the award for Amsterdam in 1998. His novel Atonementreceived the WH Smith Literary Award (2002), the National Book Critics Circle Fiction Award (2002), the Los Angeles Times Book Prize for Fiction (2003), and the Santiago Prize for the European Novel (2004). He’s written a lot of good books.
Because of the posh university I attended, I first met McEwan many years ago, before I was published myself. I was nineteen, down from Cambridge for the holidays, and a girl I knew from college was going to Ian McEwan’s wedding party. This was a fairly normal occurrence for her, coming from the family she did, but I had never clapped eyes on a writer in my life. She invited me along, knowing what it would mean to me. That was an unforgettable evening. I was so delighted to be there and yet so rigid with fear I could barely enjoy it. It was a party full of people from my bookshelves come to life. I can recall being introduced to Martin Amis (whom I was busy plagiarizing at the time) and being shown his new baby. Meeting Martin Amis for me, at nineteen, was like meeting God. I said: “Nice baby.” This line, like all conversation, could not be rewritten. I remember feeling, like Joseph K., that the shame of it would outlive me.
I didn’t get to speak with McEwan that night—I spent most of the party hiding from him. I assumed he was a little annoyed to find a random undergraduate he did not know at his own wedding party. But I had just read Black Dogs (1992)—that brilliant, flinty little novel, bursting with big ideas—and I was fascinated by the idea of an English novelist writing such serious, metaphysical, almost European prose as this. He was not like Amis and he was not like Rushdie or Barnes or Ishiguro or Kureishi or any of the other English and quasi-English men I was reading at the time. He was the odd man out. “Apparently,” said my friend knowledgeably, as we watched McEwan swing his new wife around the dance floor, “he only writes fifteen words a day.” This was an unfortunate piece of information to give an aspiring writer. I was terribly susceptible to the power of example. If I heard Borges ran three miles every morning and did a headstand in a bucket of water before sitting down to write, I felt I must try this myself. The specter of the fifteen-word limit stayed with me a long time. Three years later I remember writing White Teeth and thinking that all my problems stemmed from the excess of words I felt compelled to write each day. Fifteen words a day! Why can’t you write just fifteen words a day?
Ten years later, less gullible and a writer myself, it occurs to me that my friend may have fictionalized the situation a little herself. An interview with McEwan himself, like the one you are about to read, was of course the perfect opportunity to settle the matter, but it’s only now, writing the introduction after the fact, that I remember the question. I do not know if Ian McEwan writes fifteen words a day. However, he was forthcoming on many other interesting matters. McEwan is one of those rare novelists who can speak with honest perspicacity about the experience of being a writer; it is a life he openly loves, and talking to him about it felt, to me, like talking with an author at the beginning of their career, not at its pinnacle. The fifteen-word thing may indeed be a red herring, but my friend had intuited a truth about McEwan: he is not a dilettante or even a natural, neither a fabulist nor a show-off. He is rather an artisan, always hard at work; refining, improving, engaged by and interested in every step in the process, like a scientist setting up a lab experiment.
We did this interview in McEwan’s house, which is Dr. Henry Perowne’s house in the novel Saturday (2005). It is a lovely Georgian townhouse that sits in the shadow of London’s BT Tower. From the balcony of this house Perowne sees a plane on a crash trajectory, its tail on fire. It is a perfect McEwanesque incident.
—Zadie Smit
3.5.13
ele sabe-a toda
Noto como estamos pouco
habituados a governos negociados e coligados quando muitas das diabruras que imputamos
ao CDS e a Paulo Portas não parecem ser, afinal, nada de extraordinário no
contexto europeu. Pelo menos, segundo retiro deste belo texto de Kaare Strøm, Wolfgang
C. Müller e Daniel Markham Smith, "Parliamentary Control of CoalitionGovernments".
Subscrever:
Mensagens (Atom)